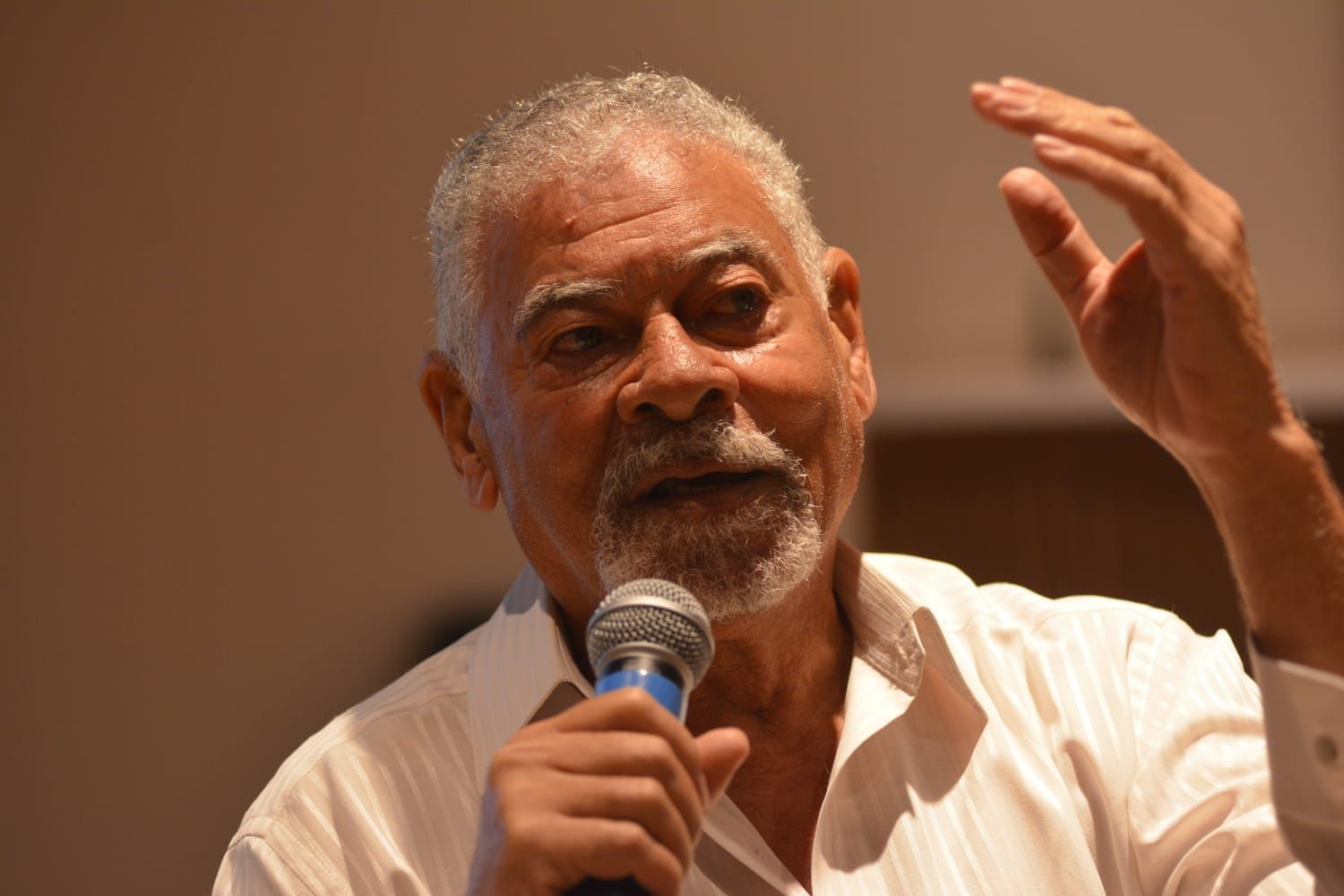20/11/2023
Brasil não tem consciência negra
Por Daniela Jacinto*, equipe Estudos em Sorocaba & Região
“Mas professora, é só uma cor de pele”, disse um aluno durante a aula de História do Brasil, na qual foi explicado para uma sala de 32 estudantes que a formação do povo brasileiro é uma mistura dos indígenas, africanos e portugueses. Não foi difícil para eles concluírem que sendo assim, corre no sangue brasileiro o sangue do povo negro, e que por isso o racismo no Brasil não faz nenhum sentido, sendo uma grande incoerência as pessoas ficarem comparando tons de pele e julgando umas às outras por conta disso.
Na opinião daquelas crianças, com idades entre 9 e 10 anos, é muito legal existir pessoas com diferentes tonalidades de pele, diferentes jeitos de ser, diferentes modos de falar, pessoas que usam estilos de roupas diferentes e cabelos diferentes. Viver num mundo igualzinho, segundo elas, seria totalmente sem graça.
Pegando essa sala de aula como exemplo, é possível fazer um retrato do que acontece com o Brasil. A diversidade de tons de pele dos alunos aponta para uma única origem. Mesmo se a pele for aparentemente branca. É o caso de uma aluna que é branca de olhos esverdeados. Sua genealogia é igualzinha a de um colega de classe que tem pele parda e olhos castanhos escuros. Ambos são da raça negra. A menina é filha de um pai negro e uma mãe branca e o menino é filho de uma mãe negra e um pai branco. Essa mãe negra, por sua vez, é filha de pai negro e mãe indígena. Na sala toda, ou um pai ou uma mãe é da raça negra, ou então uma avó, um avô, um bisavô... E assim é a grande maioria dos brasileiros, para além dos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que classifica as pessoas por sua cor e não pela etnia.
De acordo com dados de 2022, 42,8% dos brasileiros se declararam como brancos, 45,3% como pardos e 10,6% como pretos. Da soma de pretos e pardos é que se tem o total de 55,9% de pessoas da raça negra no País. É preciso considerar que nem todos os autodeclarados brancos têm de fato pele branca, ainda há muito não reconhecimento da própria cor. Mas como é que pode um país onde a maioria já é estatisticamente autodeclarada de pretos e pardos, sofrer com o racismo? A resposta é: o Brasil não tem consciência negra. Por isso que é preciso uma data para conscientizar sobre o tema. O dia 20 de novembro foi escolhido por ser uma forma de lembrar de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, que foi morto nessa data, no ano de 1695. O nome inteiro da data comemorativa é Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra.